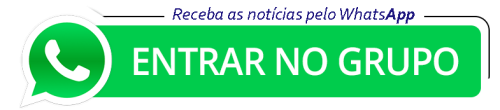JOÃO MARCOS ADEDE Y CASTRO – Promotor de Justiça aposentado, advogado e escritor
Quando eu era criança, e isso já faz mais de seis décadas, ninguém discutia a possibilidade de deixar de desfilar pela escola no Sete de Setembro.
Quem tinha condições vestia seu melhor uniforme, com sapatos pretos brilhantes, camisa branca e calça azul. Os pobres, como eu, recebiam da escola uniformes surrados, camisas espuídas e “ki chutes” desbotados.
Para muitos, todos estavam iguais, mas eu desfilava duro dentro da roupa emprestada que tirava assim que terminava o desfile, para me livrar da pecha de pobre, que é o que eu era.
Depois da dispersão da minha escola, eu ficava observando outros alunos de outras escolas públicas e conseguia distinguir, sem dificuldade, os pobres dos ricos, esses de cabelos brilhosos de xampu, aqueles com cabelos duros de sabão vagabundo.
Então, por maior que fosse o orgulho de desfilar pela Pátria, eu sentia que alguma coisa estava visivelmente errada, que uns tinham muito (à época, os filhos das professoras, bem remuneradas) e outros tinham nada ou muito pouco, mas todos eram expostos ao olhar público.
Nós cantávamos o hino nacional todos os dias, na fila antes de entrar na sala, mas era apenas uma imposição da direção, sendo comum que alunos chegassem atrasados, mesmo sob risco de castigos físicos (como ficar com a cara na parede em frente à turma), para não ser compelido a participar da cerimônia.
Quer dizer, nunca houve uma tentativa séria da escola em conscientizar-nos da importância de cantar o hino e de desfilar no 7 de setembro, de nos fazer acreditar no patriotismo como um valor humano nacional.
Com o passar do tempo, as crianças passaram a ser “convidadas” a desfilar, convite esse que muitos hoje declinam, sem nenhum constrangimento.
Passamos de uma época de imposição mediante castigo à uma liberdade sem compromisso. Esqueceram de nos conscientizar, pois isso dá muito trabalho.
É uma pena, eu gostaria muito de me emocionar com os desfiles da Pátria.